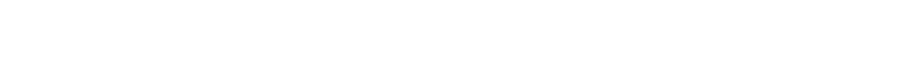Ele falava repetidamente ao telefone como se esperasse algum fio de assunto, perguntar qualquer coisa. Eu, que tinha ligado somente para ouvir aquela voz, perguntar como havia sido o dia, mas principalmente, deleitar-me com aquele timbre tão imitado por meus amigos. É eles sabiam bem, que apesar de enfezada, eu gostava de ouvir até mesmo a réplica daquela voz. Era suave, e eu cá imaginando a expressão que ele fazia a cada sílaba mencionada.
- Huhum, ahhh...
Era a brecha para mais falatório. Como é que conseguia? Tão íntegro, inteligente, tão centrado.
- Porque você sabe, se tiver que acontecer alguma coisa, eu ir embora... Vai ser você.
Acordei daquele sono doentio. O que ele havia dito?
- Han?
- Caso eu tenha de ir embora, sabe? A gente nunca sabe.
- Mas...
- E eu queria que você cuidasse de tudo por aqui.
- Isso é uma afirmação ou uma suposição, afinal?
- É uma suposição, óbvio, mas quem é que pode interpretar o futuro, não é?
A voz que antes acariciava os tímpanos passou a agir como agulhas infiltrando o meu cérebro. O ritmo cada vez mais aguçado da repetição de todas aquelas falas. Será? Bem que suspeitava, logo que entrei na vida dele, que isso outrora aconteceria. Mas já? Tão cedo? Era só um ano que pude acompanhá-lo de perto. Tantas oportunidades, tanto a admirar, como por um ponto final assim, logo no fim do ano?
- Belo presente de natal!
- Não seja irônica comigo, Ana. Você sabia que isso poderia acontecer.
- Mas precisava ser tão logo?
- Eu não imaginava que fosse conhecê-la, não estava em meus planos.
- E não está mais, não é?
Alguns minutos se passaram, o eco de nossas respirações foi retraído por um choro sutil. Mas que droga! Eu não poderia ser fraca, não agora! Juro ter ouvido um engolir grosso antes da próxima fala.
- Eu te levaria comigo se pudesse, você sabe disso. Não chora.
- Chorar te faz ficar com peso na consciência? Parabéns, sentimentalismo nunca foi seu forte!
- Descontar a raiva em mim agora não vai ajudar em nada... Você sabe, eu vou voltar.
- É a promessa de todos, não é?
- Eu preciso de um futuro, um trabalho.
- E o nosso futuro não conta?
- Ele vai ficar para onde eu vou agora: para o futuro.
- Ah, passe bem!
Desliguei o telefone. Estava atônita. Se eu não pudesse partir com ele, partiria de qualquer maneira. Corri pelo corredor do prédio apertando os botões do elevador. Não funcionavam, acho que estavam em manutenção. Nada daria certo a partir de agora, eu previa. Abri a pesada porta da escadaria. Eram oito andares ao todo. Forjaria um tropeço e então o guardaria na memória como o bom rapaz que sempre fora. Sentei. Não poderia fazer isso com ele, as consequências causadas nele seriam corrosivas. Estragaria os planos. Eu não conseguia mais conciliar o choro e a tentativa de tê-lo novamente. O telefone começava a vibrar no meu bolso. Ele. Não atendi, não queria que testemunhasse o meu fracasso.
Uma parte de mim dizia para voltar para casa, me afogar em lágrimas ao travesseiro, assistir uma comédia romântica e chorar mais ainda. A outra parte em contrapartida queria vingança, queria que ele ficasse mal. Mas eu não era assim, eu não partilharia minha dor de tal forma, afinal, ele voltaria, não é mesmo? São Paulo não poderia ser tão longe, não poderia nos impedir. O telefone tocando novamente, insistência. Acho que ele realmente está preocupado. Pensasse nisso antes. Para Ana! Não é assim que as coisas funcionam! Atenda. Se você o fizer, será tão fraca quanto fora quando o perdeu para um emprego longe daqui. Mas é o melhor para vocês. Não, não é.
O conflito dentro da mente não acabaria nunca? Eu precisava por um basta nisso tudo, sempre achei que tinha uma dupla personalidade escondida por trás de minhas escolhas mais insanas. Olhei para o relógio do aparelho celular, uma SMS tinha acabado de chegar, e essa eu teria de abrir. “Ana, por favor, fique bem ok? Não seja imprudente consigo mesma. Sabe o quanto é importante para mim.”. Eu já tinha esquecido os oito andares de escada abaixo. Agora subia os dois últimos para atingir a cobertura do prédio. Ventava, estava frio, era exatamente 19h50 de uma sexta-feira com horário de verão sendo oprimido por nuvens escuras. Olhei para cima, as gotas tímidas engrossavam e pesavam no meu cabelo. Cheguei até a beirada do edifício e olhei para baixo. Não doeria tanto quanto ele fez doer em mim, certo? Os carros passando, as pessoas fugindo da chuva. Buzinas, pombas se embolando nos galhos das árvores, cada mundinho particular perpetuado aos meus olhos, minha última visão.
Lembrei de quando nos conhecemos, ao acaso, na sala de aula. Fora tirar uma dúvida com a professora e eu de cara já me encantei. Não era nem nunca foi o tipo que agradava minhas amigas, elas que preferiam músculos ao cérebro. Mas desde então, ternura, paciência e compreensão foram fatores fundamentais para crescer o que já havia plantado naquela coincidentemente sexta-feira. E agora aqui, sem ele e com a esperança de extorquir o lamurio das minhas preces de que ele voltaria, atrasava cada vez mais a minha despedida. Cansada de esperar por mim mesma, fiquei de pé diante da cidade. Eram dez andares, sei que edifícios maiores dominavam, sei também que no dia seguinte eu não apareceria em jornais, não era comum denunciarem suicídios. Mas serei eternamente a capa que ilustrará a vida dele, e para mim era o suficiente. Egoísta! Menina egoísta! Não faça isso.
Um passo, os olhos fechados. Adeus.
- Não, Ana! Ana!
Olhei para trás assustada. Então ele veio? Eu mal podia acreditar! Chorava de alegria, o riso misturando-se à chuva, às lágrimas, ao alívio. Tremia. Desequilibrei uma perna já no ar. Queria voltar, mas ao instante que olhava para cima, vendo as janelas e as sacadas passando por mim, vendo a chuva descer da nascente mãe-nuvem. Idiota! Agora sim o perdeu para sempre. Eu não queria, sabia bem, eu não queria. Ainda via o rosto dele desesperado lá de cima, minha hora estava chegando. O baque nas minhas costas não doeria tanto quanto perdê-lo novamente. E foi assim que o fiz.
- Huhum, ahhh...
Era a brecha para mais falatório. Como é que conseguia? Tão íntegro, inteligente, tão centrado.
- Porque você sabe, se tiver que acontecer alguma coisa, eu ir embora... Vai ser você.
Acordei daquele sono doentio. O que ele havia dito?
- Han?
- Caso eu tenha de ir embora, sabe? A gente nunca sabe.
- Mas...
- E eu queria que você cuidasse de tudo por aqui.
- Isso é uma afirmação ou uma suposição, afinal?
- É uma suposição, óbvio, mas quem é que pode interpretar o futuro, não é?
A voz que antes acariciava os tímpanos passou a agir como agulhas infiltrando o meu cérebro. O ritmo cada vez mais aguçado da repetição de todas aquelas falas. Será? Bem que suspeitava, logo que entrei na vida dele, que isso outrora aconteceria. Mas já? Tão cedo? Era só um ano que pude acompanhá-lo de perto. Tantas oportunidades, tanto a admirar, como por um ponto final assim, logo no fim do ano?
- Belo presente de natal!
- Não seja irônica comigo, Ana. Você sabia que isso poderia acontecer.
- Mas precisava ser tão logo?
- Eu não imaginava que fosse conhecê-la, não estava em meus planos.
- E não está mais, não é?
Alguns minutos se passaram, o eco de nossas respirações foi retraído por um choro sutil. Mas que droga! Eu não poderia ser fraca, não agora! Juro ter ouvido um engolir grosso antes da próxima fala.
- Eu te levaria comigo se pudesse, você sabe disso. Não chora.
- Chorar te faz ficar com peso na consciência? Parabéns, sentimentalismo nunca foi seu forte!
- Descontar a raiva em mim agora não vai ajudar em nada... Você sabe, eu vou voltar.
- É a promessa de todos, não é?
- Eu preciso de um futuro, um trabalho.
- E o nosso futuro não conta?
- Ele vai ficar para onde eu vou agora: para o futuro.
- Ah, passe bem!
Desliguei o telefone. Estava atônita. Se eu não pudesse partir com ele, partiria de qualquer maneira. Corri pelo corredor do prédio apertando os botões do elevador. Não funcionavam, acho que estavam em manutenção. Nada daria certo a partir de agora, eu previa. Abri a pesada porta da escadaria. Eram oito andares ao todo. Forjaria um tropeço e então o guardaria na memória como o bom rapaz que sempre fora. Sentei. Não poderia fazer isso com ele, as consequências causadas nele seriam corrosivas. Estragaria os planos. Eu não conseguia mais conciliar o choro e a tentativa de tê-lo novamente. O telefone começava a vibrar no meu bolso. Ele. Não atendi, não queria que testemunhasse o meu fracasso.
Uma parte de mim dizia para voltar para casa, me afogar em lágrimas ao travesseiro, assistir uma comédia romântica e chorar mais ainda. A outra parte em contrapartida queria vingança, queria que ele ficasse mal. Mas eu não era assim, eu não partilharia minha dor de tal forma, afinal, ele voltaria, não é mesmo? São Paulo não poderia ser tão longe, não poderia nos impedir. O telefone tocando novamente, insistência. Acho que ele realmente está preocupado. Pensasse nisso antes. Para Ana! Não é assim que as coisas funcionam! Atenda. Se você o fizer, será tão fraca quanto fora quando o perdeu para um emprego longe daqui. Mas é o melhor para vocês. Não, não é.
O conflito dentro da mente não acabaria nunca? Eu precisava por um basta nisso tudo, sempre achei que tinha uma dupla personalidade escondida por trás de minhas escolhas mais insanas. Olhei para o relógio do aparelho celular, uma SMS tinha acabado de chegar, e essa eu teria de abrir. “Ana, por favor, fique bem ok? Não seja imprudente consigo mesma. Sabe o quanto é importante para mim.”. Eu já tinha esquecido os oito andares de escada abaixo. Agora subia os dois últimos para atingir a cobertura do prédio. Ventava, estava frio, era exatamente 19h50 de uma sexta-feira com horário de verão sendo oprimido por nuvens escuras. Olhei para cima, as gotas tímidas engrossavam e pesavam no meu cabelo. Cheguei até a beirada do edifício e olhei para baixo. Não doeria tanto quanto ele fez doer em mim, certo? Os carros passando, as pessoas fugindo da chuva. Buzinas, pombas se embolando nos galhos das árvores, cada mundinho particular perpetuado aos meus olhos, minha última visão.
Lembrei de quando nos conhecemos, ao acaso, na sala de aula. Fora tirar uma dúvida com a professora e eu de cara já me encantei. Não era nem nunca foi o tipo que agradava minhas amigas, elas que preferiam músculos ao cérebro. Mas desde então, ternura, paciência e compreensão foram fatores fundamentais para crescer o que já havia plantado naquela coincidentemente sexta-feira. E agora aqui, sem ele e com a esperança de extorquir o lamurio das minhas preces de que ele voltaria, atrasava cada vez mais a minha despedida. Cansada de esperar por mim mesma, fiquei de pé diante da cidade. Eram dez andares, sei que edifícios maiores dominavam, sei também que no dia seguinte eu não apareceria em jornais, não era comum denunciarem suicídios. Mas serei eternamente a capa que ilustrará a vida dele, e para mim era o suficiente. Egoísta! Menina egoísta! Não faça isso.
Um passo, os olhos fechados. Adeus.
- Não, Ana! Ana!
Olhei para trás assustada. Então ele veio? Eu mal podia acreditar! Chorava de alegria, o riso misturando-se à chuva, às lágrimas, ao alívio. Tremia. Desequilibrei uma perna já no ar. Queria voltar, mas ao instante que olhava para cima, vendo as janelas e as sacadas passando por mim, vendo a chuva descer da nascente mãe-nuvem. Idiota! Agora sim o perdeu para sempre. Eu não queria, sabia bem, eu não queria. Ainda via o rosto dele desesperado lá de cima, minha hora estava chegando. O baque nas minhas costas não doeria tanto quanto perdê-lo novamente. E foi assim que o fiz.